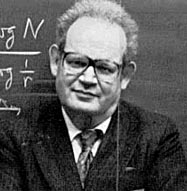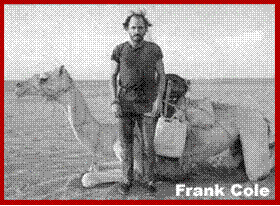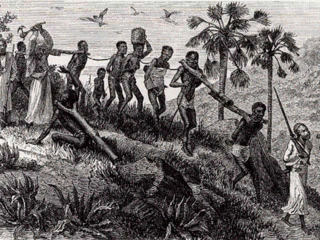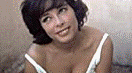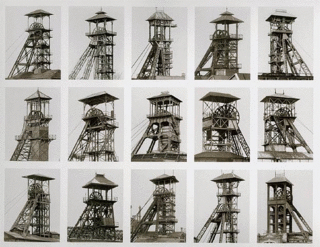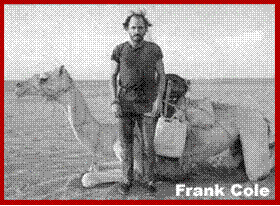
É um documento impressionante sobre a morte. Na primeira pessoa e desde as imagens iniciais, quando deparamos com o cadáver do velho Fred Howard, avô do realizador.
Postado diante desse corpo sem vida está o próprio Frank Cole, de tronco nu, a chorar convulsivamente. Quem lhe dera, confessa, substituir-se na morte àquele velho, que adorara. Há um inconformismo por esse desenlace, que o leva a buscar uma forma extrema de catarse: a travessia do Sahara.
Não uma travessia prazenteira como a de Michael Palin no seu conhecido documentário para a BBC. Em Frank essa travessia constitui um desafio à morte, mediante um sofrimento, que o faça sentir-se invencível…
Prepara-se, então, durante um ano para essa travessia africana entre a costa ocidental e o Mar Vermelho. Praticando musculação, fazendo uma dieta, aprendendo árabe e, sobretudo, habituando-se a uma vida de reclusão.
A câmara, quase como uma extensão de si mesmo, acompanha-o em toda essa evolução. Que tem apenas um fito vivido obsessivamente: encontrar a via para uma vida sem morte.
Em 29 de Novembro de 1989 ele parte de Nema, na Mauritânia. Mas o primeiro embate com o deserto começa por ser traumático: ao beber água contaminada ele contrai uma doença, que o prostra por vários dias. Tanto mais que o seu camelo adoece de uma pata, forçando-o a prolongar a paragem.
A 1 de Janeiro só percorrera ainda 500 dos mais de sete mil quilómetros, que o esperam até à sua meta. E, no entanto, a sua pele já está extremamente irritada pelos efeitos do calor.
O próprio camelo, que o transporta, não parece sentir-se melhor: sob o sol inclemente ele vai libertando os seus gemidos de sofrimento, indiferente aos muitos cadáveres de animais em decomposição, que vão desfilando no percurso.
A noite propicia algum descanso, mas, nessas alturas, mais vivas se tornam as evocações desse avô,
Para chegar a Tombuktu decide não arriscar uma desidratação definitiva e arranja um guia. Mas não tarda a descobrir que esse companheiro conhece do deserto quase tanto como ele. O poço de Kra El Azreg, que os deveria prover em água, revela-se impossível de encontrar, e acaba por ser um nómada quem lhes explica o caminho até outro poço mais adiante.
Até chegarem à antiga capital das caravanas de sal do deserto, vivem dias de sede insaciada e de completa desorientação face à inexistência de quaisquer referências.
É a própria polícia do Mali quem, nessa cidade revela algum discernimento, impondo-lhe uma escolta para a etapa seguinte. Os riscos de um encontro com bandidos do deserto, justifica essa prevenção. Mas, apesar do medo, que sente, Cole suborna os guardas para prosseguir sozinho e cumprir o seu voto de solidão.
A sorte protege-o: apesar de entrar numa região, aonde a guerra entre tribos nómadas e tuaregues esteja inflamada, ele chega a Abalak, no Níger, depois de muitas noites de partilha de riscos com grupos aonde vai sendo acolhido.
É uma das lições, que o Sahara lhe transmite: ali viaja-se em grupo por uma questão de segurança.
A meta seguinte é o oásis de Yogou, que ele procura com o exclusivo apoio da sua bússola. Mas é inevitável a perda da pista de camelos e de qualquer outra sinalização, que o ajude a sentir-se na rota correcta. Em desespero, ele sente a necessidade de não se deixar vencer pelo pânico.
Sem água há vários dias, acaba por encontrar um oásis providencial aonde encontra um consolo provisório. Ao ponto de quase sentir vontade de ficar ali para sempre.
A experiência vale-lhe a confirmação de quão suicida é o projecto de prosseguir viagem sem um guia. Por isso recorre a Malam Seydina, um marabu, que o levará até ao Chade. Mas o visto expirou e os militares de uma brigada travam-lhes o caminho, ordenando-lhes a presença na cidade próxima, Bir Faz, na manhã seguinte.
Atemorizado, o guia foge em direcção ao Níger. Mas Frank prossegue, acabando por ser capturado.
A ameaça física torna-se iminente: a polícia chadiana acusa-o de espionagem e ameaça executá-lo. Depois, a polícia secreta alerta-o para os perigos de uma viagem numa região afectada pela guerra civil e insta-o a desistir.
Só ao fim de vinte e sete dias de reclusão é que cedem à sua teimosia e o deixar prosseguir no seu périplo.
Cauteloso, porém, ele decide desviar-se do deserto para alcançar El Fasher no Sudão. para aí voltar a ser preso pela polícia, julgando-o parte interessada na guerra entre os árabes e os fur.
A instabilidade na região vai-se traduzindo em sucessivas ameaças: numa aldeia é apedrejado por crianças, mais adiante é aprisionado por outra tribo nómada, que lhe exigem os papéis, e logo se vê perseguido por bandidos decididos a matá-lo, valendo-lhe então uma providencial intervenção dos militares.
Impressionam as imagens que capta do seu corpo: úlceras por toda a pele, nódoas negras, sangue seco. E, no rosto, a crispação de dores incessantes. Ele confessa-se fraco, como se estivesse no fim da vida. Aproximando-o do que o avô sentira nessas últimas semanas de vida…
E, no entanto, já não está muito longe do Mar Vermelho. O camelo é que já não está em condições de o levar a esse objectivo: está tão esgotado, que de nada lhe vale os dias de descanso e de pasto, que Frank lhe propicia.
Num desiderato muito semelhante ao de um moribundo, acaba por cair desfalecido, morrendo de exaustão.
O novo animal, que compra numa aldeia, é-lhe roubado nessa mesma noite. Alertada, a polícia persegue o ladrão, que abandona o animal para melhor se escapulir.
Tem sorte. No olhar dos polícias, Frank suspeita de um forte desejo de morte.
Acaba, enfim, a viagem numa praia. Reencontrando inúmeras carcaças de animais. Mas essa chegada não lhe dá grande alívio: ele queria vencer a morte e confrontara-se com ela durante as longas semanas em que percorrera o continente.
No entanto, essa obsessão não conheceria diluição nos anos seguintes. Por isso a legenda final é elucidativa: sempre assombrado pela morte ele decidira regressar ao Sahara nove anos depois. Acabando aí assassinado por bandidos em Outubro de 2000, a leste de Tombuktu.