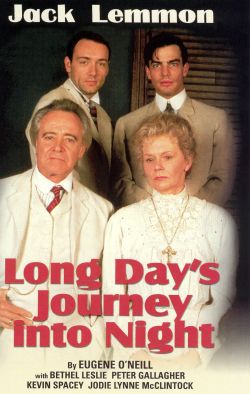Um ambiente de desconfiança permanente entre um número reduzido de personagens enclausurados numa casa asfixiante. Numa frase poderíamos definir a famosa peça de Eugene O’Neill, que constitui um bom exemplo de como levar o espectador por sucessivos, e cada vez mais tensos, ciclos entre a aparente harmonia e o confronto dessas personagens, identificando-se com os dramas da família Tyrone, que todos os verões vai passar uma temporada à casa de férias situada junto ao mar.
Em noites de nevoeiro as sirenes mal deixam dormir quem já anda intimamente alvoraçado, mas o velho patriarca ressona como se o castelo de cartas em que assenta a vida da mulher e dos filhos não estivesse a um passo de se desmoronar.
Mary acabou de regressar de um longo internamento após mais uma das suas “crises nervosas” e Edmund, o filho mais novo, tem uma daquelas «constipações de verão», que mais não é do que o eufemismo para a tuberculose que todos fazem para não querer abordar. Porque quando, numa das primeiras cenas tensas da peça, Jamie, o primogénito, o faz logo aproveita para acusar o pai da doentia avareza, que o fez recorrer ao incompetente dr. Hardy para lhe salvar a vida do filho, agora à beira do fim.
Dessa discussão entende-se melhor a realidade dessas personagens: Tyrone é um déspota, que anseia por comprar sempre mais terras, apesar de já ser o maior proprietário da região. Ator consagrado, costuma passa o resto do ano em digressões, que o levam a partilhar com Mary, quartos de hotéis baratos, e é à sua pala que Jamie também singra nos palcos mas com muito menos sucesso, ou que Edmund começara a escrever no jornal local depois de percorrer o mundo como tripulante em navios mercantes.
Embora vão fazendo os possíveis por não estimularem os focos de dissensão, é inevitável ver mãe e os filhos a darem conta da frustração, que tomou as suas vidas. Mary, por exemplo, confessa num dos seus diálogos com Edmund: Nenhum de nós pode nada contra o que a vida nos faz. Depois das coisas feitas, fazemos outras até que nos afastamos do que gostaríamos de ser e perdemos a nossa verdadeira identidade para sempre. E, no terceiro ato, recorda como era bastante prendada antes de namorar Tyrone e logo se desiludira na lua-de-mel quando ele lhe aparecera completamente embriagado numa noite de récita.
No fim do almoço Tyrone recebe o telefonema do dr. Hardy a convocar Jamie para uma consulta às quatro da tarde. Sucessivos diálogos a dois ou a três dão para concluir que Mary toma “medicamentos” às escondidas, e culpa-se pela morte de outro filho, Eugene, que deixara aos cuidados da mãe, quando o marido a chamara para junto de si por sentir saudades. Ninguém a conseguirá demover que Jamie terá provocado intencionalmente a morte desse irmão mais novo, desrespeitando a ordem de dele não se aproximar enquanto tivesse sarampo.
Confirma-se, igualmente, a tuberculose de Edmund, com Jamie a prevenir o pai para o quanto dele desconfia quanto ao tipo de sanatório para onde o irá enviar. Dada a sua avareza será crível que opte por uma espelunca em vez de um hospital em condições.
Sozinha em casa, enquanto os homens vão à vila, Mary chama a criada Cathleen para lhe fazer companhia, contando-lhe mistificações (como conhecera James Tyrone e dele se enamorara imediatamente, quando o vira atuar pela primeira vez em palco), que reconhece depois serem absolutamente falsas. Porque, agora, mais de trinta e seis anos depois, tem de reconhecer que fora feliz nesse tempo anterior em que estava a estudar num colégio de freiras.
Hoje gostaria de recuperar a fé perdida, mas como consegui-lo se nunca poderia esconder a sua natureza de toxicómana?
A tarde vai avançando para a noite e o nevoeiro tende a instalar-se, quando Tyrone e Edmund regressam!
As agressões verbais não cessam e, quer Mary, quer Edmund, deixam o chefe da família a jantar sozinho, Ela está em estado de carência e tem de se refugiar no quarto para tomar às escondidas o “medicamento para o reumático nas mãos”, embora o marido não se deixe iludir quanto a uma agudização do seu estado de toxicodependência. Quanto ao filho doente, a falta de apetite tanto resulta dos efeitos da doença, como da insuportabilidade que o convívio com os pais lhe suscita.
No início do quarto ato a casa está imersa no nevoeiro: no piso superior ouvem-se os passos de Mary e Jamie está nalgum bordel das redondezas. Por isso no salão só restam o velho Tyrone e Edmund com este a declamar Baudelaire para descontentamento do progenitor, que lhe retorque com as vantagens do que poderia colher do seu idolatrado Shakespeare. Mas tratam-se de conversas defensivas para ambos evitarem aquelas a que, inevitavelmente, irão desembocar. E, de facto, não tardará que Edmund acuse o pai de, com a sua avareza, nunca ter promovido uma verdadeira desintoxicação da mãe, nem de lhe facultar cura num sanatório adequado. Ou de tê-la deixado tantas noites sozinha durante as suas digressões só regressando bêbedo aos miseráveis quartos de hotel onde ela o esperava.
Mas Eugene O’Neill foge habilmente ao maniqueísmo, quando temos de respeitar a longa confissão que o velho Tyrone faz ao filho e explica essa avareza: a miséria extrema conhecida na infância, com a fome e os tugúrios a mal o protegerem do frio ou o fracasso da sua carreira de ator, que ele quisera potenciar com o papel de Monte Cristo e que fizera com que mais ninguém o contratasse para outro papel que não esse. «Esta noite estou tão deprimido, que sinto que é o fim de tudo!», acaba por confessar.
Uma cumplicidade profunda estabelece-se entre ambos como se, nas respetivas fraquezas aceitassem as do outro.
Quando o pai se retira, Jamie chega embriagado e pronto para contar a sua experiência sexual com a mais gorda das meretrizes do bordel. Mas, numa noite de confissões, ele confessa o desespero de ter acreditado na possibilidade de se regenerar se a mãe viesse curada da última desintoxicação. A evidência do fracasso também o leva a considerar o fim das suas réstias de esperanças. E confessa a Edmund ter exercido voluntariamente sobre ele a sua má influência porque, ciumento das atenções da mãe, o pretendia ver destruído.
E, no entanto, reconhece nele o único dos seus amigos!
Não tarda que os quatro protagonistas se voltem a encontrar em cena: Mary veio do primeiro andar envergando o seu vestido de noiva, mas é de um fantasma que parece tratar-se. Quando começa a falar, já sem o véu, compreendemos que a sua loucura a devolveu ao passado em que andava no colégio de freiras. É sobre o que ali se terá passado que se fixa: os tempos felizes em que se enamorara de James Tyrone.