No entanto, o colonialismo não teve apenas tragédias marítimas: em terra, em todos os recantos para onde eram enviados arrivistas e gente sem préstimo nas metrópoles europeias, foram muitas as situações de mortífera desadaptação desses brancos vindos do Hemisfério Norte aos inóspitos territórios a sul do Sahara.
Este conto de Conrad retrato um exemplo eloquente de tais tragédias: Kayerts e Carlier são contratados por uma empresa colonial para gerirem um posto de avançado de comércio de marfim com os indígenas da região. A ambição é muita e o desconhecimento da região ainda é bem maior. O resultado será inevitavelmente a morte de ambos.
De pouco lhes valerá a presença de Makola, o encarregado do pequeno armazém, que está mais interessado em trocar escravos por marfim do que adequar-se aos valores e aos objectivos dos dois homens. Todos os negros contratados para esse entreposto são vendidos por Makola, ficando ali apenas os dois brancos, o negreiro e a mulher deste. O resultado é a loucura apossar-se daqueles, traduzida em obsessão homicida ou em conformado suicídio. Antes da chegada da almejada salvação...
Excertos:
Dirigiam o posto comercial dois homens. O chefe do posto, Kayerts, era baixo e gordo; Carlier, o adjunto, era alto, de cabeça grande e tronco largo empoleirado numas pernas compridas e magras. O terceiro homem do pessoal era um negro da Serra Leoa, que afirmava chamar-se Henry Price. Mas por uma razão qualquer, ao longo do rio os nativos tinham-lhe posto o nome de Makola, o qual se lhe pegou durante as suas deambulações pela região. Falava inglês e francês a cantar, tinha uma caligrafia magnífica, percebia de contabilidade e alimentava no mais fundo do coração o culto dos espíritos malignos. Por mulher tinha uma negra de Luanda, enorme e faladora. Três crianças rebolavam-se ao sol à frente da casa deles, uma construção baixa tipo arrecadação. Makola, taciturno e impenetrável, desprezava os dois brancos. Estava encarregado dum pequeno armazém de adobe com telhado de colmo e f
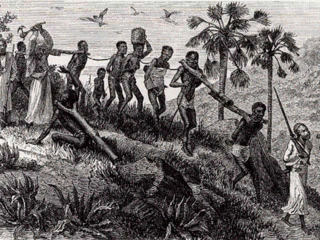 azia por manter correctamente as contas das missangas, do pano de algodão, dos lenços vermelhos, do arame e dos restantes artigos de comércio. Além do armazém e da casota de Makola, havia só mais um edifício importante no terreno desbravado do posto, uma casa feita de canas entrançadas, de acabamentos executados com toda a perfeição, e tendo uma varanda a toda a volta. Tinha três salas. A do meio era a sala comum, com duas mesas toscas e alguns bancos. As outras duas eram os quartos dos brancos, sem outro mobiliário além duma cama de campanha e uma rede mosquiteira cada um. O chão estava atapetado com tudo quanto os brancos possuíam; malões abertos e semi-cheios, roupas citadinas, botas velhas; todas as coisas sujas e todas as coisas
azia por manter correctamente as contas das missangas, do pano de algodão, dos lenços vermelhos, do arame e dos restantes artigos de comércio. Além do armazém e da casota de Makola, havia só mais um edifício importante no terreno desbravado do posto, uma casa feita de canas entrançadas, de acabamentos executados com toda a perfeição, e tendo uma varanda a toda a volta. Tinha três salas. A do meio era a sala comum, com duas mesas toscas e alguns bancos. As outras duas eram os quartos dos brancos, sem outro mobiliário além duma cama de campanha e uma rede mosquiteira cada um. O chão estava atapetado com tudo quanto os brancos possuíam; malões abertos e semi-cheios, roupas citadinas, botas velhas; todas as coisas sujas e todas as coisasquebradas que se acumulam misteriosamente à volta de homens sem princípios de asseio. (…)
Cinco meses passaram-se desta maneira.
Então, uma manhã, enquanto descansavam na varanda falando da vinda do vapor, um grupo de homens armados irrompeu da floresta e avançou para o posto. Não eram desta região. Eram altos, esbeltos, vestidos à antiga com mantos azuis franjados e carregavam ao ombro espingardas de percussão. Makola ficou muito agitado e saiu a correr do armazém (onde passava os dias), ao encontro dos visitantes. Estes avançaram para o pátio, lançando em voltas olhares ferozes e desdenhosos. O chefe, um negro forte e de aspecto decidido, de olhos raiados de sangue, postou-se à frente da varanda e pronunciou um longo discurso. Fazia muitos gestos enquanto falava e acabou bruscamente.
Havia qualquer coisa que assustou os dois brancos na sonoridade das longas frases que utilizou. Eram sons de modo nenhum familiares mas com muitas semelhanças, no entanto, com a fala dos homens civilizados. A arenga do negro soou-lhes como uma dessas línguas impossíveis que às vezes ouvimos nos sonhos.
Que algaraviada é esta? — perguntou um espantado Carlier — Ao princípio até julguei que o tipo ia falar em francês. Seja lá o que for, é diferente da língua de pretos a que estamos habituados.
Sim — replicou Kayerts. — Ei, Mikola, o que é que ele disse? Donde vêm eles? Quem são?
Mas Makola, que parecia estar sobre tijolos em brasa, respondeu precipitadamente: — Não sei. Vêm de muito longe. Talvez a Sra. Price os perceba. Se calhar são homens maus.
O chefe, depois de ter esperado um bocado, disse qualquer coisa ríspidamente para Makola, que abanou a cabeça. Então o homem, depois de olhar à volta, reparou na casota de Makola e dirigiu-se para lá. Logo a seguir ouviu-se a Sra. Makola falar com grande vivacidade. Os outros estrangeiros — eram seis ao todo — andaram dum lado para o outro, perfeitamente à vontade, espreitaram para dentro do armazém, juntaram-se em volta da campa e apontaram para a cruz com ar entendido; em resumo,: estavam como em casa.
— Não gosto desta gente; e em minha opinião, Kayerts, devem ser do litoral; têm armas de fogo — observou o sagaz Carlier.
Kayerts também não gostava daquela gente. Pela primeira vez apercebiam-se de que viviam em condições onde o não habitual pode tornar-se perigoso e compreendiam que não havia mais nenhum poder no mundo entre eles e o imprevisto, a não ser eles próprios. Ficaram pouco à vontade, entraram em casa e carregaram os revólveres. Kayerts disse:—Temos de dizer ao Makola para lhes ordenar que têm de se ir embora antes do anoitecer.
Os estrangeiros partiram à tarde, depois de terem comido uma refeição que a Sra. Makola lhes preparou. A mulher parecia muito animada e falou com os visitantes. Falava em tons agudos, apontando para aqui e para ali, para a floresta e para o rio. À parte, Makola observa-os. Levantou-se por diversas vezes para murmurar algumas palavras ao ouvido da mulher. Acompanhou os estrangeiros até à ravina por detrás do posto e regressou vagarosamente, de aspecto muito pensativo. Quando os brancos o interrogaram mostrou-se muito estranho, fingindo não compreender nada do que lhe diziam. Parecia ter-se esquecido de todo o francês que sabia — parecia mesmo ter perdido o uso da fala. Kayerts e Carlier concluíram que o negro tinha bebido demasiado vinha de palma.
Combinaram fazer turnos de guarda mas, à noite pareceu-lhes tudo tão calmo e pacífico pelo som de tambores nas aldeias. A um rufar surdo e rápido, perto, seguia-se outro mais longe — e depois cessava. Logo a seguir, chamamentos curtos, de sítios diferentes. E depois, os tambores e os gritos, em uníssono, aumentaram de intensidade, tornaram-se fortes e contínuos, propagaram-se a toda a floresta, rolando na noite, perto e longe, como se toda a região se tivesse transformado num imenso tambor que lançava apelos aos céus. E no meio de todo este barulho surdo e terrível, súbitos gritos de guerra, semelhante aos cânticos do manicómio, soavam em notas discordantes e tons agudos, pareciam elevar-se muito acima da Terra e banir toda a paz sob as estrelas. (…)
Esta era a causa de todo o mal! Não havia ninguém ali; e tendo tido deixados sozinhos com as suas franquezas, tornavam-se, a cada dia que passava, mais um par de cúmplices do que dois amigos dedicados. Há oito meses que não tinham notícias de casa. Todas as noites diziam: — Amanhã vamos ter aí o vapor. — Mas um dos vapores da Companhia tinha naufragado e o director estava a utilizar o outro na rendição de postos importantes no rio principal. Pensava que este posto inútil e os agentes inúteis podiam esperar. Entretanto Kayerts e Carlier viviam de arroz cozido sem sal e maldiziam a Companhia, toda a África e o dia em que nasceram. É preciso uma pessoa ter vivido dura dieta desse género para saber que problema horroroso pode ser a necessidade de engolir alimentos. Não havia literalmente mais nada no posto além de arroz e café; bebiam o café sem açúcar. As últimas quinze pedras de açúcar, Kayerts tinha-as fechado solenemente no seu malão, juntamente com meia garrafa de cognac: — Em caso de doença — explicou. Carlier aprovou: — Quando se está doente, qualquer mimo extra é uma festa.
Esperavam. Um capim cerrado começava a invadir o pátio. A sineta deixou de tocar. Os dias passavam, silenciosos, exasperantes e lentos. Quando os dois homens falavam, rosnavam; os silêncios eram amargos, tingidos pelo azedume dos pensamentos.
Um dia, depois do almoço de arroz cozido, Carlier pousou a chávena do café, sem lhe tocar, e disse:
Que se lixe! Vamos mas é tomar um café decente ao menos uma vez. Vai lá buscar o açúcar, Kayerts!
É para os doentes — disse o interpelado em voz baixa e sem levantar os olhos.
Para os doentes? — troçou Carlier: — Bah!... Pois bem! Estou doente.
Não está mais doente que eu, e eu passo bem sem ele — respondeu Kayerts, conciliador.
Vá! Venha mas é o açúcar, seu forreta velho, traficante de escravos!
Kayerts olhou para ele espantado. Carlier sorria-se com toda a insolência que era capaz de mostrar. E de repente pareceu-lhe que nunca tinha visto aquele homem antes. Quem era? Não sabia nada dele. De que seria capaz? Apoderava-se dele uma emoção violenta, como se estivesse na presença duma coisa inesperada, perigosa, decisiva. Mas fez por responder com toda a compostura:
Essa piada é de muito mau gosto. Não a repita.
É piada? — disse Carlier, crescendo na cadeira.
— Tenho fome, estou doente, não estou a brincar! Detesto hipocrisias. Tu és um hipócrita. Tu és um negreiro. Eu sou um negreiro. Neste país só há negreiros. Hei-de tomar café com açúcar hoje, dê lá por onde der.
— Proíbo-o de me falar nesse tom — respondeu Kayerts com uma clara resolução.
— Tu... O quê? — berrou Carlier, saltando. Kayerts também se levantou.
Eu sou seu chefe — começou, tentando dominar a voz que lhe tremia.
O quê? — gritou o outro. — Quem é o chefe? Aqui não há chefe nenhum. Aqui não há nada: nada, a não sertu e eu. Vai buscar o açúcar, seu pote
Tento na língua. Vá para o seu quarto — berrou Kayerts. — Está demitido... seu malandro!
Carlier agarrou num banco. Dum momento para o outro tornara-se agressivo e perigoso.
— Seu civil gordo! Seu inútil! Toma!
Kayerts baixou-se do outro lado da mesa e o banco foi embater na parede.
Então, como Carlier estava a tentar virar a mesa, Kayerts, em desespero, fez uma investida cega, de cabeça baixa, como um porco encurralado, e derrubando o amigo, fugiu pela varanda para o seu quarto. Fechou a porta, puxou do revólver e ficou a arfar. (…)
O Director da Grande Companhia Civilizadora (como se sabe, a civilização segue o comércio) foi o primeiro a desembarcar e deixou imediatamente de ver o vapor. A bruma junto ao rio era extremamente densa; lá em cima, no posto, a sineta tocava sem descanso.
O Director gritou alto para o vapor:
— Não está aqui ninguém à nossa espera; deve-se passar qualquer coisa, embora eles estejam a tocar. Era melhor virem também comigo.
Pôs-se a escalar a margem. O comandante e o chefe--maquinista foram atrás dele. À medida que subiam, o nevoeiro foi-se desfazendo, e avistaram o Director já a uma boa distância. De repente viram-no lançar-se para a frente, ao mesmo tempo que os chamava: — Corram! Corram para a casa! Encontrei um. Corram, procurem o outro!
Tinha encontrado um! E mesmo ele, o homem da multifacetado e sensacional experiência, ficou um tanto perturbado com o que descobriu. Parou e remexeu nos bolsos à procura duma faca, enquanto enfrentava Kayerts, suspenso da cruz por meio duma correia de couro. Ele tinha trepado, com toda a evidência, à campa, que era alta e estreita, e depois de ter atado o cinto das calças ao braço da cruz, enforcara-se. Os dedos dos pés quase tocavam o solo - os braços pendiam-lhe ao longo do corpo; parecia perfilado em sentido, mas com uma das faces, roxa, caída por travessura sobre o ombro. E, irreverentemente, mostrava a língua inchada ao seu Director.
Sem comentários:
Enviar um comentário